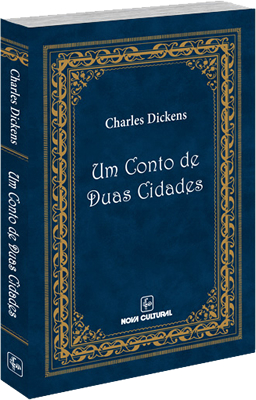De Boni ao
criador da literatura de Cordel, da Paris do Terror aos botequins cariocas, uma
viagem regressiva aos primeiros livros apreciados com calma neste ano apressado
2012 está
sendo um ano veloz, divertido, com mudanças engatilhadas e feriadões sem
qualquer espécie de desperdício. Já tivemos o Ano Novo em Natal, o carnaval em
Pernambuco e vem aí a já tradicional Semana Santa em Caldas Novas, onde o
turismo de massa interiorano faz a gente botar a soberba de molho em águas
quentes abastecidas de tranquilidade. Já fomos a Pipa, já passei uma semana com
os meninos no janeiro parelhense, já visitei os cunhados Sandra e Novo nas
fervuras do alto verão caicoense, já comecei o ano bronzeando manhãs e tardes na
praia de Ponta Negra, enfim, se a promessa para os próximos doze meses feita na
passagem de ano – na praia, em Pirangi,
no meio de uma multidão festiva e de uma família animada – era, digamos,
aproveitar a vida, hedonisticamente falando ela está sendo cumprida até o
último segundo de cada noite antes de dormir. Mas o assunto em questão, como é
tão comum neste blogue e no seu associado Hamaca de Poti, não tem nada a ver, ao menos
diretamente, com este parágrafo de abertura. Indiretamente, sim, há
possibilidades de ligação.
Vejamos: talvez seja por isso, por este 2012 estar se saindo tão eficaz nas suas determinações de, sejam quais forem os problemas, fazer a da vida uma diversão possível em 365 dias sem culpa, que o leitor bagunçado que o escreve esteja desempilhando um livro após o outro desde que janeiro chegou. Dezembro, melhor dizendo, que se cronologicamente não faz sentido, do ponto de vista das repartições do tempo que a gente faz com a arbitrariedade que a vida de cada um permite ou exige, este 2012 começou um pouquinho antes. O que se quer dizer com tamanhos rodeios aqui é que ainda nem acabamos março , o mês três do calendário, e este leitor bagunçado já sorveu sete títulos em leituras diria feriadas de tão divertidas e proveitosas quanto o ano que flui em desabalada carreira. Confira na lista atualizada na Hamaca: tem “O Livro do Boni”, do próprio; “Biografia Prematura”, de Fernando Meirelles; “O Verso e o Briefing”, de Clotilde Tavares; “TerraMarEAr”, por Ruy Castro e Heloisa Seixas; “Um Conto de Duas Cuidades”, o clássico de Charles Dickens e os recentes “Estórias Abensonhadas”, de Mia Couto, e “A Privavera do Dragão”, de Nelson Motta. Faltava deixar aqui umas notas atrasadas sobre quase todos eles – a exceção fica por conta dos dois últimos, um deles já tema de publicação anterior e apressada como tem que ser; o outro, guardado para texto mais à frente.
O LIVRO DO
BONI
Desde
janeiro, o risco de você ligar a televisão em sinal aberto ou a cabo e dar de
cara com a carotonha do senhor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho é quase
igual à de esbarrar com as bochechas reduzidas de Fausto Silva ou com a voz
cansada de Galvão Bueno. É curioso:
nunca antes na história da televisão brasileira aquele que foi seu mais
poderoso homem apareceu tanto no próprio veículo que o consagrou quanto agora,
quando está aposentado.
Boni, por
causa do natural marketing de vendas do livro – tão bom por ter tanto o que
contar que dispensaria tudo isso, mas
quem é louco? – tem sido presença constante em dez entre dez talquishows da
tevê brazuca. O antes todo poderoso, que depois virou uma espécie de
ressentido-mor pela exclusão do círculo do poder (rivalizando com o
recém-falecido Chico Anísio) reaparece agora na figura do memorialista que dá
bronca e ensina à rapaziada como é que as coisas têm que ser.
Abstraídas
essas circunstâncias – e os momentos de soberba memorialística que não haveria
como deixar de existir nas suas 500 tantas páginas – o “Livro do Boni” deveria
ser leitura obrigatória em cursos de Comunicação, Televisão, Rádio,
Multijornalismo, Publicidade e afins. Todo mundo que tem a menor ligação que
seja com o trabalho em televisão deveria ter a humildade de ler o que a soberba
– em grande parte justificada – do Boni imprimiu no papel de suas lembranças.
Porque o
livro é, antes de qualquer coisa – claro que ler de olho nas histórias de
bastidores do tempo em que ele reinou na Rede Globo é um pequeno prazer,
confesse – uma gigantesca e informal aula sobre comunicação. E não apenas no
que se refere à emissora de tevê mais poderosa do país. Porque ao longo de seu
livro, Boni vai revelando ao leitor atento como é possível estabelecer uma
comunicação cada vez mais gradativamente abrangente com o conjunto médio da
população de um país grande, diversificado, multicultural e por tudo isso tão caótico
quanto criativo. E isso se dá desde o início
na publicidade – cuja leitura me lembrou os tempos da Faz Propaganda, no
artesanato diário com o mestre Solino em Natal – até os grandes marcos
televisivos com que ele demarcou seu território neste governo à parte que se
tornou a Rede Globo no Brasil.
BIOGRAFIA
PREMATURA
Melhor do
que ler o “Livro do Boni” é ler, logo depois dele, a “Biografia Prematura” que o
cineasta – e também ex-diretor de filmes publicitários – Fernando Meirelles
escreveu para a série publicada pela Imprensa Oficial de São Paulo (íntegra
disponível, grátis, na internet. Dá um Google aí que acha). É como se você
estivesse lendo o “Livro do Boni II”, uma espécie de continuação acidental, em
que outro homem de comunicação, embora na área do cinema (e tendo vindo da
mesma publicidade que gerou o executivo global), conta sua história, seus
truques, suas circunstâncias.
Dá a
impressão de que Meirelles – e não Boninho – é o verdadeiro filho do homem:
mudaram os meios, mudou o público, alterou-se o caldo de cultura onde o
elemento comunicativo (livro, filme, programa de tevê, site ou o que seja) vai
tentar cravar sua flechas; mas tem gente nova aberta ao tal inconsciente
coletivo brasileiro fazendo suas tentativas e tendo sucesso. A trajetória de
Meirelles é muito menos ritual, menos formalística e absolutamente mais
desprovida de de chances de acertos do que a do Boni da era da tevê zero ponto
zero, mas a essência de um e outro é a mesma, nos dois livros: a capacidade de
ouvir, processar e devolver para a audiência o resultado deste entendimento.
Boni não é só um homem de televisão, Meirelles não é apenas um talento do
cinema: ambos são dois brasileiro munidos de um atributo capaz de tocar
corações e mentes: o poder da comunicação. (P.S: foi o primeiro livro que li em
tablet, excelente, lúdica e ágil experiência; aprovado)
O VERSO E O BRIEFING
Comunicativa como ela só, Clotilde Tavares não tem compromisso com o Oscar e muito menos com a programação da tevê brasileira. Mas tem todo o comprometimento do mundo com a cultura nordestina e aquilo que ela tem de único, só nosso, engendrado e burilado no meio país ou país e meio que vai de Pernambuco ao RN, essa pátria à parte onde reinam Ariano, Cascudo e José Lins, pra ficar em apenas um representante de cada uma das etnias humanísticas dos distintos mas tão comuns territórios. Pois Clotilde Tavares, a partir da sua varanda na avenida Miguel Castro, cidade do Natal, estampou para quem quiser ver a figura de um outro homem de comunicação de feitos notórios; embora semidesconhecido.
O nome dele
é Leandro Gomes de Barros e se isso não diz nada pra você não estranhe: por ter nascido e vivido longe do circuito
que gera e faz circular país afora seus conceitos e ideias, é quase natural –
mas noutro sentido, será sempre um absurdo – que Leandro Gomes da Silva seja um
desconhecido. Pois se trata aqui do nordestino que consolidou a chamada
literatura de cordel, tema de “O Verso e o Briefing”, livro em que Clotilde
Tavares examina como essa forma de comunicação abarca em si a publicidade
regional. Uma curta mas saborosa viagem pelo mundo dos poetas e cantadores que
a modernidade vai abduzindo da vida urbana nordestina.
TERRAMAREAR
Depois, veio
o aguardado “TerraMarEAr”, coletânea de artigos sobre viagens do casal Ruy
Castro e Heloisa Seixas, em que a dupla vai da Paris da Revolução Francesa –
pra ver que no livro o conceito de viagem vai muito além do literal, o que é
ótimo – aos botequins cariocas, onde os autores podem provar iguarias populares
sem se dar ao trabalho de comprar passagens ou fazer as malas. Tudo é viagem no
livro de Castro-Seixas: seja uma chegadinha às paisagens de Saint-Tropez
consagradas pelo filme “...E Deus Criou a Mulher”, seja o mergulho de batismo
nas grutas submersas de Fernando de Noronha.
Mas o filé,
por incrível que pareça – e eu já avisei algumas linhas acima que o conceito de
viagem aqui é mais elástico do que permite a leitura mais literal – é o passeio
à cidade onde moram os personagens de desenho animado que já tiveram fama e
fortuna e hoje curtem, tanto quanto possível, a decadência e o semi-anonimato.
Ali onde Mickey Mouse comemorou com estardalhaço seu sexagésimo aniversário ou onde o ex-bruto
Brutus que infernizava Popeye recolheu-se à vida doméstica e fora do armário na
companhia dos Sobrinhos do Capitão. É
uma viagem hilária, do tipo que não se pode ler quando se está a caminho de
casa no ônibus – ao ouvir as risadas que não se consegue nem se está
interessado em conter, vão pensar que você é um abilolado intelectual que ainda
consome livros, se é que ainda se usa ir pra casa de ônibus.
UM CONTO DE
DUAS CIDADES
Se você não
é chegado a essas liberdades narrativas e prefere algo melhor encadernado pela costura
do tempo, faça como eu, arrisque-se a ler um autêntico clássico e veja o que
estava perdendo. “Um Conto de Duas Cidades” foi meu primeiro Dickens, a quem
cheguei estimulado pela leitura de uma reportagem de revista sobre uma data
comemorativa relacionada ao escritor inglês.
Ao lado de
Shakespeare, Dickens é , como se sabe, o grande autor do país de Kate Midletown.
E no mundo dos cultuadores contumazes dos grandes autores, quem gosta dos
ingleses e não é fã de um é discípulo de outro. No filme “Além da Vida”, de
Clint Eastwood, o médium vivido pelo ator Matt Damon é um aficionado por
Dickens, autor mais conhecido por seu romance “David Coperfield”, difícil como
diabo de se encontrar nas livrarias e até nos sebos.
Mas tudo
isso é firula e perde completamente a relevância quando se inicia a leitura
deste “Um Conto de Duas Cidades” – e, imagino, de qualquer outro dos seus
livros. Abre-se diante do leitor um panorama de uma época grandiosa e
sangrenta, a imediatamente antes e o logo depois da Revolução Francesa, com painéis
paralelos que mostram, de um lado, a brutal exploração e a inimaginável miséria
dela resultante entre os franceses dos dois lados deste muro antes de a revolta
explodir; de outro, a sede de vingança que vem depois e anula, babando sangue
em praça pública, toda a justificável mudança de ordem que a antecedeu. Falam
muito da “Revolução dos Bichos”, de Orwell (que este leitor bagunçado não leu),
mas isso aqui é cinema-verdade na tela leitora da sua mente. Muito além da mera
metáfora.
“Um Conto de
Duas Cidades” – o título se refere a Paris e Londres ao tempo em que esses
acontecimentos históricos se davam – pareceu, aos meus olhos atuais, uma imensa
reportagem sobre os fatos da época, com personagens incisivos colhidos no
momento de suas ações e reações, escrito em prosa semi-ensaística de legível barroquismo,
em frases tão extensas quanto ansiosas, como se Dickens fora um antepassado de
José Saramago metido em querelas políticas de outras tonalidades e
anteriores à crítica da globalização que
o português tornou um adesivo à sua figura de escritor.
A extensão
não prevista da postagem não recomenda, mas quem chegou até aqui merece a
reprodução de pelo menos um trecho para entender de que prosa se está a falar:
o parágrafo em que Dickens entra com a gente nas masmorras onde os condenados
pela fase que ficou conhecida como “O Terror” esperam o beijo da guilhotina em
seus inúteis pescoços . “Na escura prisão de Conciergerie, os que deviam morrer
aguardavam seu destino. Eram em número igual ao das semanas do ano. Dos
vagalhões da cidade para o oceano eterno e infinito, cinquenta e duas cabeças
rolariam naquela tarde. Antes que
esvaziassem suas celas, novos ocupantes eram designados; antes que seu sangue
se misturasse ao sangue derramado na véspera, aqueles que se misturaria ao
deles já estava separado.”